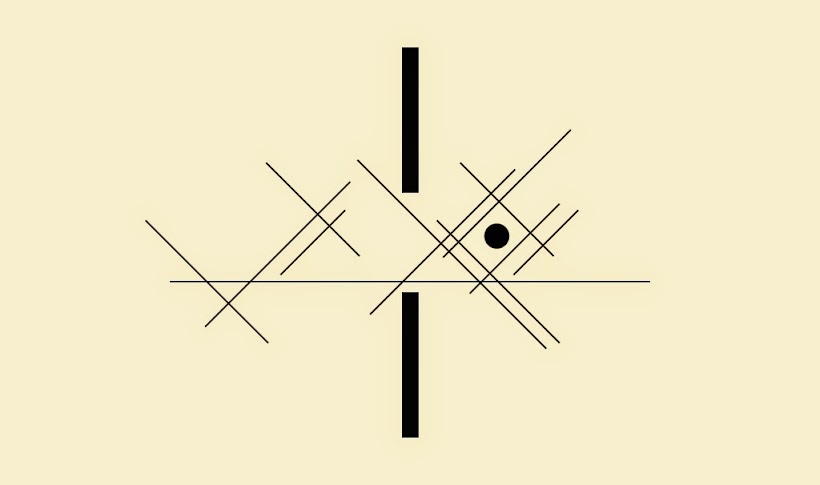
Quase todos os dias, deparo-me com um novo texto, uma nova lista ou imagem que tenta convencer-me da mesma coisa: de que, ao viajar, torno-me uma pessoa melhor. Há listas que me dão razões pontuais para viajar: ‘aprenda a se virar sozinho’ ou ‘descubra a beleza do mundo’. Textos me apresentam argumentações de por que a experiência da viagem cobre qualquer custo financeiro. Imagens de paisagens sublimes me inspiram a desbravar os rincões do mundo. De fato, a primeira impressão é de que viajar pode fazer com que eu me torne uma pessoa melhor e de que, se todos viajássemos mais, o mundo seria um lugar melhor já que nos conheceríamos melhor uns aos outros. No entanto, podemos pensar sobre a ‘questão da viagem’ por uma perspectiva diferente, que eu chamo de paradoxo da travessia de fronteiras geopolíticas, segundo o qual existem fronteiras cuja travessia seja potencialmente mais forte ou mais significante pelo simples fato de serem excedidas num deslocamento geográfico.
Não são todas as fronteiras que contam. A ideia de autoconhecimento e aprendizado, tão difundida nos discursos de viajantes, já tem fronteiras pré-determinadas.
Quando eu dava aulas de inglês, sempre havia os momentos em que se falava de viagens e, inevitavelmente, dado o idioma em questão, perguntava se alguém na classe já tinha viajado ao exterior. Muitos dos alunos diziam que já tinham estado na Argentina ou no Uruguai, mas acabavam respondendo que não, não haviam viajado ao exterior. Como não?! Tecnicamente, Argentina e Uruguai são países diferentes, logo, essas viagens se classificariam como viagens internacionais. Porém, imperava o imaginário de que ‘viajar para fora’ é ir a países que estão muito longe, no espaço e nas ideias sobre cá e lá. Isto é, mesmo atravessando as fronteiras internacionais do Brasil quando, por exemplo, alguém do Rio Grande do Sul vai ao Uruguai, não se trata de uma ida ao exterior. Talvez para alguém do Tocantins, cujo trajeto seria mais longo, o Uruguai seja um destino internacional, mas aparentemente não para alguém que esteja tão próximo. Não são, então, todas as fronteiras que contam. A ideia de autoconhecimento e aprendizado, tão difundida nos discursos de viajantes, já tem fronteiras pré-determinadas.
Além disso, surge a pergunta: por que a viagem — a viagem libertadora, a viagem que nos faz pessoas melhores — precisa ser uma viagem internacional longa? O que há nesses trajetos extensos, além da distância geográfica, que nos impele a ‘rever conceitos’ e a ‘aprender sobre o mundo’?
A grande explicação é de que viajar significa ter contato com outras culturas, o que acaba ignorando o fato de que não há absolutamente nenhuma relação entre limites interestatais (isto é, entre países) e diferenças culturais. A lógica da explicação está invertida e tem sido, ao longo dos desenvolvimentos principalmente da geografia e da antropologia, superada. A lógica dominante é de que fronteiras internacionais são marcadores naturais de diferenças culturais essenciais entre os povos de cada país. É uma ideia inspirada pelos princípios fundamentais dos Estados-nação, segundo os quais um país é a criação de um aparato de controle e governo sobre um território onde já vive um povo com uma cultura única e absolutamente distinguível das outras. O caminho inverso, no entanto, mostra-se mais preciso: não são diferenças culturais pré-existentes que determinam os limites entre os países cuja posterior travessia nos trará epifanias existenciais automáticas pelo simples fato de termos saído de um país e entrado em outro; é o Estado que acaba, em grande parte, determinando as concepções de diferenças culturais internacionais (lê-se: entre-nações) ao criar grandes narrativas de pertencimento ao país através da história oficial, da língua comum, dos símbolos nacionais que se espalham por repartições públicas ou enfeitam camisetas de futebol etc. Nesse sentido, ninguém nasce brasileiro como comumente encaramos a brasilidade — não há nada que nos faça a priori ‘culturalmente brasileiros’. Nem a ideia de etnia, que inclui traços genéticos compartilhados, pode ser usada para resumir a criação dos países: não há sequer um país no mundo onde se possa afirmar categoricamente que viva uma só etnia. Enfim, se nem princípios étnico-raciais nem princípios sócio-culturais conseguem explicar a criação de países diferentes, por que insistimos em que a travessia de fronteiras internacionais nos colocará em contato inevitável e engrandecedor com outras culturas?
Uma pessoa pode viajar por todos os países do mundo e voltar para casa com a mesma mentalidade ou pode nunca ter se deslocado muito longe e ser incrivelmente sensível a questões que lhe excedam a sua zona de conforto.
A resposta me parece vir da reformulação da própria pergunta. E se, em vez de falarmos da viagem como uma ferramenta de aprendizado e autoconhecimento em termos de travessia de fronteiras internacionais, separássemos a ideia de deslocamento geográfico da ideia de autoaperfeiçoamento? A fatal conclusão é de que ninguém precisa viajar para se tornar uma pessoa melhor, muito menos se precisa atravessar fronteiras para se conhecer mais sobre o mundo, entendido como aquele lugar onde jaz tudo o que um não conheceria no seu cotidiano. Uma pessoa pode viajar por todos os países do mundo e voltar para casa com a mesma mentalidade ou pode nunca ter se deslocado muito longe e ser incrivelmente sensível a questões que lhe excedam a sua zona de conforto. De nada adianta, por exemplo, assustar-se com o sistema de castas na Índia e dizer que não há racismo no Brasil. De nada adianta trabalhar como garçom nos Estados Unidos por seis meses e voltar para o Brasil dizendo que greve ‘é coisa de vagabundo’. O choque de línguas, costumes, vestimentas, paisagens ou comidas diferentes não é mais forte do que o choque de se perceberem problemas e soluções locais justamente porque não é o choque do deslocamento geográfico que nos faz mais sábios ou mais sensíveis; é a realização e o apreço pela diferença e pela diversidade que nos torna pessoas melhores. E isso pode requerer um deslocamento físico — pode, mas não é fundamental. Alguém pode aprender muito ao atravessar a fronteira do Brasil e passar pela fronteira da Suécia tanto quanto pode aprender, sem sair da mesma cidade, ao atravessar a fronteira entre o seu bairro e outro. De mesmo modo, uma pessoa branca pode aprender muito ao atravessar a fronteira simbólica entre brancos e negros e dispor-se a ouvir sobre racismo e um homem pode aprender muito ao atravessar a fronteira entre homens e mulheres e dispor-se a ouvir sobre machismo. E essa pessoa pode, inclusive, não só aprender sobre as outras mas também aprender sobre si mesma e sobre os vários ‘países’ que existem dentro dum mesmo país, sobre os vários mundos, sistemas e comunidades que se quedam ao nosso lado — muitas vezes embaixo dos nossos narizes —, repelidos pela zona do que nos é familiar e confortável.
Viajar pode ser uma experiência magnífica, reveladora e nobre — além de divertida [por que não?] —, mas não necessariamente o será para todo mundo se um não se abrir aos diversos mundos a que inevitavelmente tem-se acesso quando se viaja. Superemos a ilusão de que se mover de um país a outro nos fará automaticamente saber mais sobre qualquer coisa ou mesmo sobre nós mesmos. Não são estas ou aquelas fronteiras internacionais que nos determinam ou que nos separam das belezas e das mazelas do mundo. A viagem, entendida como esse passo evolutivo pessoal e social, pode inclusive demandar nenhum deslocamento geográfico. ![]()
Viajar ou não viajar? Ou o paradoxo da travessia de fronteiras geopolíticas, pelo viés de Gianlluca Simi


