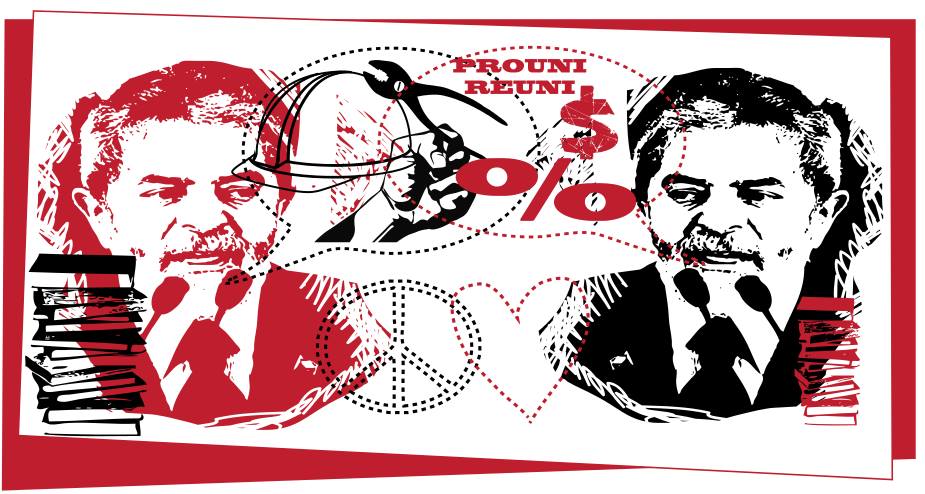Refletir sobre educação e diversidade sexual tem sido uma constante para mim nos últimos quatro ou cinco anos. Embora haja inúmeros motivos para isso, há algo basilar que parece escorrer pelas nossas vistas quando pensamos em crianças (e outros seres, como os adultos) em escolas: elas são apenas crianças. Enquanto crianças, portanto, não teriam idade, sexo/gênero, cor de pele, variações corporais, variações cognitivas, variações de renda familiar, variações de origem etc. Na verdade, nem todos esses elementos “escorrem” pelas nossas vistas; só alguns. É o caso, especialmente, daquilo que diz respeito à variação de gênero e de desejo/expressão sexual.
Nesses últimos anos, eu escrevi extensamente sobre muitos aspectos ligados à relação de crianças e jovens LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) com ambientes educacionais, sobretudo escolas [alguns exemplos estão: aqui, aqui, aqui, aqui e aqui]. Entretanto, uma falta constante de aprofundamento diz respeito às pessoas trans (comumente travestis e transexuais, mas também pessoas não-binárias e outras com variadas expressões e identidades de gênero) na escola. Em duas oportunidades contínuas (aqui e aqui), tratei mais especificamente do tema da diversidade de gênero na educação. Ainda assim, sem contextualização nacional apropriada.
O que se sabe (as ausências também são indicadores), cruzando a própria questão da empregabilidade com dados sobre violência, letalidade e alfabetização, é que pessoas trans, em geral, estão alijadas do acesso e da permanência em espaços escolares.
Há exatas duas semanas (27 de março), o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) aprovou a adoção do nome social [1] para toda e qualquer pessoa membro ou usuária da instituição. A UFSM soma-se a um grupo de aproximadamente 20 outras universidades federais que também já fizeram isso no Brasil. Estive particularmente envolvido neste processo, como integrante do coletivo Voe, e sei da importância que tal resolução tem no contexto local. Entretanto, a dívida que o Brasil tem quanto ao respeito à diversidade de gênero das pessoas é tão vasta que esta resolução ainda é muito pouco.
Um indício preocupante disso é a ausência [2] de pesquisas aprofundadas sobre a situação de estudantes travestis, transexuais e transgêneras(os) em geral nos espaços escolares, do Ensino Fundamental ao Ensino Superior. Infelizmente, não consigo apontar nenhum dado local, regional ou nacional sobre isso. Mesmo outros indicadores mais gerais sobre expectativa de vida (em torno de 30 anos para mulheres trans no Brasil), empregabilidade (90% estariam em contextos de prostituição, portanto, fora do mercado formal) e alfabetização (90% das mulheres trans seriam funcionalmente analfabetas) carecem de precisão e de sustentação empírica.
O que se sabe (as ausências também são indicadores), cruzando a própria questão da empregabilidade com dados sobre violência, letalidade e alfabetização, é que pessoas trans, em geral, estão alijadas do acesso e da permanência em espaços escolares. A evasão é alta e cenários similares são encontrados em pesquisas no campo da saúde — muitas pessoas trans não acessam os sistemas de saúde públicos por se sentirem lá desrespeitadas mesmo que haja portaria do Ministério da Saúde prevendo o respeito ao nome social no Sistema Único de Saúde desde 2009.

Quando escrevi sobre a experiência de uma escola em Oakland, na Califórnia (Estados Unidos), com o ensino da diversidade de gênero entre os animais para crianças de 09-10 anos, procurei sistematizar a necessidade (um verdadeiro dever em termos legais e éticos) de se abordar a diversidade sexual e de gênero nas escolas — quanto mais cedo, melhor. Embora careçamos, como apontei, de dados específicos sobre a realidade de crianças que apresentam ou se identificam com expressões de gênero discordantes das hegemônicas no ambiente escolar, existem algumas conclusões em âmbito internacional que são plenamente aplicáveis ao Brasil. Algumas delas, que publiquei num texto de 2011 sobre o kit anti-homofobia naufragado pelo Estado brasileiro naquele mesmo ano, seguem nos seis parágrafos abaixo:
O estudo Vitimização escolar de adolescentes lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros: implicações para a saúde e a adaptação de jovens adultos, publicado em maio de 2011 no Journal of School Health (Revista de Saúde Escolar da Associação Americana de Saúde Escolar), traz evidências de que jovens LGBT que vivenciaram altos níveis de opressão na escola (durante middle e high school, respectivamente o final do Ensino Fundamental e o Ensino Médio nos EUA) apresentam a saúde e a saúde mental comprometidas no começo da vida adulta, incluindo depressão, tentativas de suicídio, DSTs e risco de contágio de HIV. As três principais conclusões do estudo são:
- Jovens LGBT que relataram altos níveis de vitimização escolar, porque eram LGBT, durante a adolescência estavam 5.6 vezes mais suscetíveis a reportar tentativas de suicídio, 5.6 vezes mais propensos a reportar tentativa de suicídio que necessitou de atendimento médico, 2.6 vezes mais propensos a relatar níveis clínicos de depressão, 2.5 vezes mais suscetíveis a serem diagnosticados com doenças sexualmente transmissíveis e aproximadamente 4 vezes mais propensos a apresentar risco por infecção de HIV quando comparados aos seus colegas que relataram níveis baixos de vitimização escolar;
- Gays e bissexuais masculinos e transexuais, na fase adulta, apresentaram níveis de opressão escolar homofóbica mais altos do que lésbicas e bissexuais femininas adultas;
- Jovens adultos LGBT que reportaram níveis mais baixos de vitimização escolar apresentaram níveis mais altos de autoestima, satisfação pessoal e socialização comparados com seus pares que tiveram altos níveis de vitimização escolar durante a adolescência.
Esse estudo demonstrou, então, “a importância de se abordar e prevenir a vitimização contra LGBT nas estruturas e no ambiente escolar para reduzir as disparidades na saúde de jovens adultos LGBT”. Outro estudo publicado em dezembro de 2010, na Pediatrics (Revista Oficial da Associação Americana de Pediatria), aponta que adolescentes gays e lésbicas nos Estados Unidos são 40% mais suscetíveis a serem punidos pelas escolas, pela polícia e pelos tribunais do que seus pares heterossexuais. A pesquisa Justiça penal e sanções escolares contra jovens não-heterossexuais: um amplo estudo nacional traz também a conclusão de que há substancial disparidade entre as expulsões escolares, prisões, condenações e abordagens policiais de gays e aquelas feitas com heterossexuais. A conclusão do estudo (disponível na íntegra) é a seguinte:
Jovens não-heterossexuais sofrem sanções educativas e criminal-jurídicas desproporcionais que não são explicadas por maior engajamento em comportamentos ilegais ou transgressivos. Compreender essas disparidades e tratá-las deve reduzir expulsões, detenções e encarceramentos e suas terríveis consequências sociais e à saúde.
Em 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) possibilitou que o nome social fosse utilizado. Houve 95 solicitações num universo de mais de 9,5 milhões de pessoas inscritas. Isso significa menos que 0,001% de pessoas trans fazendo o exame. O gargalo que perspassa a vida escolar de pessoas trans no Brasil é muito mais intenso e precoce do que apenas os desafios de se ingressar no Ensino Superior. Ainda que haja avanços — a profusão de pesquisadoras(es) e teóricas(os) travestis e transexuais falando sobre si e sobre suas demandas, no Brasil, é cada vez maior, sobretudo nos últimos anos —, estamos diante de um cenário empobrecido: ausência de pesquisas e indicadores e ausência de política educacional consistente quanto ao tema.
Enquanto não houver dados específicos sobre a realidade de crianças e jovens travestis, transexuais, transgêneras(os) e/ou com expressão de gênero diversa das hegemônicas dentro dos ambientes escolares, pouco se saberá sobre a dimensão dos desafios existentes, especialmente quanto às suas especificidades. Ao mesmo tempo, a falta de uma abordagem minimamente nacional quanto à diversidade de gênero nas escolas (o exemplo da organização Gender Spectrum, do caso da Califórnia, é um simples e eficaz para conjugar biologia com variação de gênero) alimenta esse ciclo de exclusão de pessoas trans dos espaços educacionais.
É aqui que as universidades encontram-se com as escolas. A formação de professoras(es) para o ensino básico é de responsabilidade das universidades brasileiras. Em quantos cursos (de licenciatura, mas não apenas) a temática da diversidade de gênero é abordada? De que maneira? Existem ferramentas sendo fornecidas para tratar disso no cotidiano escolar? Mais que apenas garantir acesso (permanência é outra frente a ser batalhada) minimamente respeitoso para pessoas trans nas universidades — como a resolução da UFSM é bom avanço —, é preciso que as próprias universidades produzam conhecimento e formação pedagógica para que crianças e adolescentes compreendam diversidade de gênero já na escola.
O dever legal e ético de se tratar da diversidade de gênero na escola, que citei anteriormente, vem de algo tão prosaico quanto essencial: a escola deve ser um ambiente seguro e saudável para todas as crianças. Para todas elas, sem exceção. ![]()
Pessoas trans, escolas e universidades, pelo viés do colunista Luiz Henrique Coletto
Notas
[1] Nome social é aquele pelo qual uma pessoa identifica-se (e é identificada) em seu meio social, uma vez que o nome no registro civil (“nome oficial”) não corresponde à identidade ou expressão de gênero da pessoa. Algumas pessoas, sobretudo ativistas e pesquisadoras(es), têm críticas à expressão “nome social”. Além disso, há críticas à própria ideia de nome social como uma conquista de cidadania, quando, na verdade, o reconhecimento do direito à identidade de gênero de forma completa é que garantiria tal cidadania. A este respeito, ver o artigo de Berenice Bento (2014).
[2] Se você conhece alguma pesquisa específica sobre travestis, transexuais, transgêneras(os) e/ou pessoas trans em geral em espaços escolares/universitários, envie-me, por favor (aqui: luiz.media@gmail.com). Algumas pesquisas nacionais que abordei em textos prévios (como neste aqui) fazem menção à discriminação contra pessoas LGBT em geral, mas o foco em identidade de gênero é quase nulo. Um relatório de 2013 da organização Global Rights sobre a situação dos direitos humanos de mulheres trans negras brasileiras traz algumas informações sobre “acesso inadequado à educação” nas páginas 15 a 17. Ainda assim, são dados genéricos, pouco sistematizados e não aprofundados.