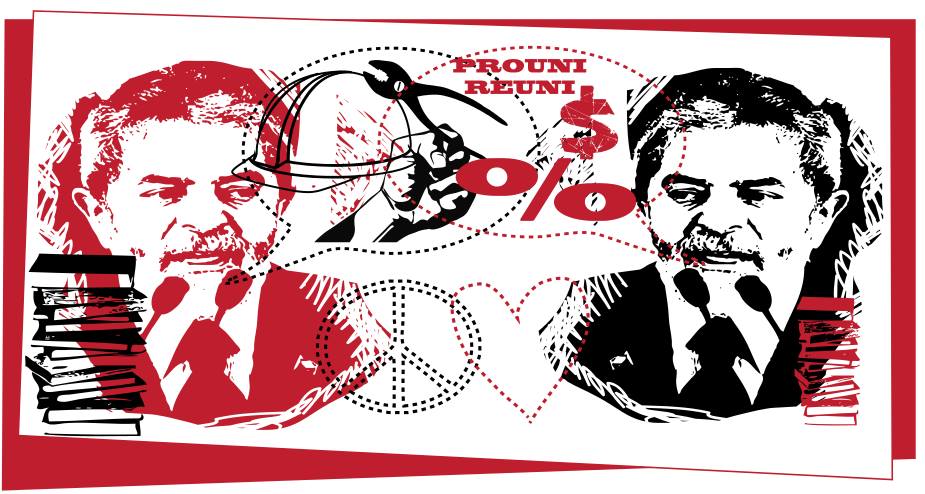A maior parte da literatura existente sobre o termo protagonismo refere-se ao campo da juventude. Protagonismo juvenil, portanto. Neste caso, a expressão recebe um sentido positivo e pró-ativo, cuja estratégia política e discursiva reside na inserção de jovens nos espaços públicos — de ação, interação, decisão, enfim, espaços políticos.
Há alguns anos (não sei precisar quando), o termo protagonismo vem ocupando um espaço de debate crescente em diversos movimentos sociais. É difícil divisar em quais deles a intensidade das discussões é mais aguda, mas minha percepção é a de que seja nos espaços feministas.
Uma razão óbvia para isso é demográfica: quase todos os indicadores que se referem à noção de poder, na maioria absoluta dos países, demonstram a presença desproporcional de homens em relação às mulheres (ausência, portanto) em espaços associados à comando e prestígio social. Se, em média, as mulheres representam metade da população — os dados das Nações Unidas, em 2010, apontavam uma diferença de 57 mi a mais para os homens, um valor irrisório frente os 7 bi de seres humanos —, é evidente que sua baixa presença em espaços decisórios e de maior relevância na estratificação social de cada país é um problema para o feminismo.
Assim, a relação entre protagonismo e poder é bastante central quando o que está em jogo são movimentos igualitaristas (no sentido formal, não necessariamente material) e que partem da igualdade potencial entre todo e qualquer ser humano. É justamente o modo como se desenvolveram, historicamente, as nossas culturas que anula ou torna assimétrica esta igualdade potencial, o que explica a existência de tantas causas políticas por igualdade.
Eu gostaria de separar a abordagem sobre este termo em dois aspectos fundamentais: 1. protagonismo como disputa discursiva. 2. protagonismo como processo político. Esta divisão é artificial como se verá em muitos casos, mas creio que seja útil para abordar exemplos específicos em que, a meu ver, uma discussão acalorada sobre protagonismo é mais fumaça do que incêndio. Ou seja, quando a noção de protagonismo como processo político acaba sendo apenas protagonismo como disputa discursiva. [E não é o discurso uma processo político também? Sim. Aí residem os casos para os quais a divisão revela sua artificialidade.]
Começo com um relato sobre uma atividade num evento acadêmico. Tal evento tinha como foco a discussão sobre diversidade sexual e os desafios enfrentados pelos sujeitos que constroem politicamente esta pauta (grosso modo, LGBT: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais). Uma das atividades foi sobre visibilidade e invisibilidade de mulheres lésbicas e bissexuais. O espaço estava ocupado, majoritariamente, por mulheres — como era de se desejar. Havia um número razoável de homens, eu incluso. Como organizador geral do evento, estive em 99% das atividades. Muitas delas foram introduzidas ou mediadas por mim. Por razões que me parecem claras, eu sabia que aquela atividade tinha a possibilidade de colocar na mesa muitas questões importantes sobre protagonismo.
E aqui é o momento do texto em que acho prudente destacar um movimento dúbio que há na relação entre (não) protagonismo e condescendência. Particularmente, como este é um exemplo específico sobre relação entre homens e mulheres, não posso avaliar bem como isso ressoa. Certamente tenho melhor avaliação sobre a relação entre homens heterossexuais e homossexuais, mas uma analogia entre estes casos tem pouca força já que a natureza dos elementos análogos não é a mesma (gênero e orientação sexual), ainda que se trate de poder em geral. Retomando o exemplo, talvez fique mais claro o que quero dizer com dubiedade na relação entre protagonismo e condescendência.
Assim, antes do início da atividade, com a presença de uma colega que também era da organização geral, conversamos sobre o fato de que seria mais adequado que ela mediasse a atividade. Se ela tivesse sido mediada por mim, não posso dizer no que teria sido diferente. Provavelmente, aumentaria o receio em expor-se publicamente que acompanha o processo de socialização da maioria das mulheres nos espaços públicos. É um palpite razoável, mas não posso dizer mais que isso.

A certa altura, após as falas das três convidadas que compuseram a mesa, foi aberto o espaço para o diálogo com as pessoas presentes. E ele começou tímido, como foi constatado por uma das mulheres presentes, que fez a colocação que me parecia que seria “natural” de ocorrer ali: em 5–10 minutos de abertura das falas pro público, já haviam falado mais homens do que mulheres. Mais que isso: homens haviam falado por mais tempo. Este fato está bem amparado em pesquisas sobre tempo de fala de homens e mulheres, sobretudo em espaços coletivos (reuniões, salas de aula, palestras, debates, assembleias, etc.)
Duas pesquisadoras canadenses, Deborah James and Janice Drakich, revisaram 63 estudos que examinaram o tempo de fala utilizado por mulheres e homens dos Estados Unidos em diferentes contextos. Mulheres falaram mais que homens em apenas dois estudos. (Aqui)
Quando eu decidi fazer um comentário na atividade (eu relutei no início justamente por que tinha consciência da especificidade daquele espaço, como disse mais acima — e aqui está um ponto debatível sobre condescendência), fui o 2º ou 3º homem a falar. E foi então que uma das mulheres presentes fez o comentário que mencionei acima, sobre homens já terem falado mais do que mulheres naquele espaço sobre (in)visibilidade de mulheres lésbicas e bissexuais. Ela tinha razão.
O que torna complexa esta discussão é que, se estivermos todos e todas conscientes destas assimetrias, é mais provável que haja situações em que se homens não abrirem mão de seu poder de fala (e, em medida equivalente,poder de ser ouvido[2]), mulheres não falarão e não serão ouvidas. É por isso que, tanto neste exemplo que relatei como na discussão sobre protagonismo em geral, há um pano de fundo em que protagonismo e condescendência flertam. Isso não é necessariamente problemático, uma vez que seja a constatação da realidade material em que opera essa assimetria.
Este poder de fala não tem ocorrência única, pois depende de muitos fatores. Naquele caso específico da atividade que relatei, o poder de fala de homens não era por uma assimetria numérica (já que havia mais mulheres no local), nem por abordagem temática (foram três mulheres que fizeram a exposição, todas falando sobre feminismo, mulheres, lesbianidade e bissexualidade), mas sim por um poder culturalmente constituído.
Ali estavam reunidas várias pessoas que são parte de uma mesma cultura — uma em que homens são incentivados a falar mais, e mulheres menos, especialmente no que se chama “espaço público”. Paradoxalmente, foi justamente o uso deste poder naturalizado para os homens que propiciou que uma das mulheres discorresse sobre isso, fazendo com que a atividade voltasse seus olhos para o tema do protagonismo, o que incentivou mais mulheres do público a falarem.
Entretanto, nem sempre este poder de fala (e ação) deve-se exclusivamente à constituição cultural da “naturalidade” com que homens falam e mulheres não. Aqui acho importante abrir o escopo, e observar que isso se aplica a mais grupos sociais, justamente porque nem sempre o caso é de “naturalidade”, mas sim de constituição dos espaços de poder.
Enquanto no primeiro caso (em que se enquadra a atividade acadêmica que relatei antes), homens presentes no espaço poderiam (e deveriam) reduzir seu uso de fala em favor da construção do protagonismo das mulheres, em outros casos isso não é efetivo nem exequível.
Frequentemente, percebo que quando argumento em favor de cotas raciais, sou recebido com mais credibilidade do que ativistas negros e negras falando exatamente o mesmo. Esse “fenômeno” também já é bem conhecido em relação ao feminismo. O que está em jogo aqui não é apenas protagonismo, embora possa ser em alguns casos, mas sim a constituição de um espaço de poder que confere mais credibilidade para minha fala e maior escuta entre os demais, especialmente entre os contrários às cotas. Este é um caso relevante para falar de protagonismo?
Sim e não. Aqui é que gostaria de deixar clara qual minha visão sobre a tensão que a discussão sobre protagonismo produz em diversos movimentos sociais (embora não em todos, o que deveria chamar a atenção para outros desdobramentos deste tema).
Protagonismo não é uma qualidade imaterial e a-histórica de ocorrência de ações. Isso parece empolado, mas não é: não há como avaliar honestamente a questão do protagonismo sem avaliar cada contexto de ocorrência. E é por isso que percebo haver dois grupos maiores dessas ocorrências: um em que a disputa pela noção de protagonismo é eminentemente discursiva; e outra em que ela é eminentemente um processo político. Na maior parte dos primeiros casos, acho que é uma decisão equivocada cerrar fogo no tema do protagonismo; no segundo caso, sempre, é uma leitura adequada.
As situações em que me parece mais comum disputar a noção de protagonismo no caso discursivo são aquelas em que há espaços de poder (geralmente de fala, mas não só) que são fortemente acessados de maneira desigual. Embora seja desejável, com o poder que se tem, minar esta assimetria, nem sempre é possível, e nem sempre é viável sem que se perca a oportunidade de falar (ou agir) naquele espaço. Quando a disputa discursiva se dá em espaços que não são fortemente acessados de maneira desigual, aí vejo que as críticas ao “roubo de protagonismo” são pertinentes.
Os casos de acesso desigual são inúmeros e os mais frequentes. Posições institucionais de liderança, acesso à mídia e maior audiência pública (em sala de aula, numa palestra, num blog e, por extensão, na sociedade em geral) são os exemplos mais expressivos. Isso significa que, com frequência maior, há oportunidade de pessoas que não fazem parte de grupos minoritários — em sentido sociológico, e não numérico — serem mais ouvidas do que as que fazem parte destes grupos.
A crítica a estas situações como “roubo de protagonismo” não me parece muito adequada. Especialmente quando tais pessoas, que possuem este poder, procuram utilizar parte dele para tornar público a razão por que são mais ouvidas. Ou seja, para desnudar o fato de que possuem mais poder para falarem e serem ouvidas do que as pessoas de grupos minoritários — seja sobre qualquer assunto, seja, especialmente, sobre as próprias experiências e proposições das pessoas de grupos minoritários. É válido para o feminismo, mas também para as causas antirracistas, a causa LGBT, a ambientalista, ao debate de classes, sobre política prisional, etc.
É evidente que tal assimetria do poder de fala, escuta e ação gera desconforto. Sobretudo porque os sujeitos que produzem e refletem sobre suas próprias experiências e constroem as proposições políticas para combater a desigualdade que as atinge têm maior repertório para falar de si e suas causas.
Isso nem sempre significa que falarão melhor e agirão melhor, uma vez que cada espaço público possui códigos que são mais efetivos e códigos que são menos — é conhecido de manuais de ativismo na mídia, por exemplo, que se você for muito agressivo, vai afastar a audiência; além disso, você deve estar ciente de que está falando para uma audiência com potencial de mudança, e não para a parte dela que já concorda com você ou para a parte que te odeia claramente; sem ter isso em mente, ou seja, sem dominar o código específico daquele espaço, um ótimo ativista para mobilizar as ruas pode não ser efetivo (e ser danoso) quanto à causa que defende diante de uma câmera ao vivo.
Dito isso, o que mencionei no penúltimo parágrafo refere-se a uma “tipologia ideal”. É evidente que o conteúdo das falas ou das ações é importante para avaliar a questão. Ainda assim, mesmo com falas problemáticas e ações ruins, não é exatamente protagonismo o que estaria em jogo nos casos em que pessoas de grupos não minoritários advogam em favor de grupos minoritários.
Assimetrias numéricas e espaços de ativismo
A análise da composição parlamentar e das pautas desenvolvidas no Congresso brasileiro é uma que oferece inúmeros exemplos sobre isso. O que há ali é um espaço de detenção de poder muito específico, e que, com frequência gritante, revela a assimetria na ocupação deles. Recentemente, a União Inter-Parlamentar (IPU) afirmou que a política de cotas para mulheres nos parlamentos pode estar atingindo seu pico de efetividade, e que novas estratégias para tratar da desigualdade na presença de mulheres na política são necessárias.

Assim, o acesso numérico desigual é uma realidade concreta que implica, para avançar dentro deste cenário, na necessidade de que homens falem e ajam quanto ao feminismo dentro do Congresso — a recente aprovação da feminicídio como crime hediondo é um exemplo disso. Isso corre, em paralelo, à necessidade de múltiplas outras ações: incentivo à participação de mulheres na política institucional, eleição de mais parlamentares, educação escolar que incentive a presença e atuação de mulheres nos espaços públicos, etc.
Note-se, por exemplo, que para inúmeras causas, a questão da assimetria numérica é insolúvel. Se as pautas do movimento LGBT brasileiro dependessem de alguma simetria no acesso ao poder político institucional, jamais seriam aprovadas (e não o são até o momento, embora a análise mude sensivelmente se focarmos em outros poderes que não o Legislativo). E a experiência de outros países demonstra que é possível, uma vez que as razões sejam compartilhadas por pessoas de grupos não minoritários. O mesmo é válido para as pautas dos movimentos indígenas, para as questões de infância e juventude, entre outras.
As situações mais expressivas em que a discussão sobre protagonismo é pertinente, a meu ver, dizem respeito a quando há ação deliberada para não ouvir e não deixar agirem os grupos minoritários, sobretudo quando quem está falando e agindo não estabeleceu relações “orgânicas”[2] com aqueles grupos. O famoso “falar por”.
É claro que, muitas vezes, há quem fale por nós e o faça bem. Então o “falar por” não é um problema em si quando estamos diante de situações em que o acesso assimétrico a espaços de poder não pode ser resolvido de imediato e por ação individual. A efetividade para tal causa de eu dizer “o casamento igualitário é um direito das pessoas LGBT” é menor do que se for dito por um ator famoso ou pelo presidente dos Estados Unidos, ambos heterossexuais, por exemplo. O que está em primeiro plano aqui é o acesso assimétrico a espaços de poder, que eles até podem denunciar — embora não se espere, por exemplo, que qualquer um, a qualquer momento, vá um dia poder equivaler seu poder de fala, escuta e ação ao de um presidente. Ponto insolúvel.
Então, tais situações mais expressivas dizem respeito, pelo que percebo, a casos em que não está em jogo, no primeiro plano, o acesso assimétrico a espaços de poder. Ou seja, quando há pessoas de grupos não minoritários participando de espaços de construção coletiva (alguns deles exclusivamente voltados para pessoas de grupos minoritários) e exercendo seu poder de fala e ação — estruturalmente maior, como já indiquei antes — em detrimento da evolução do poder de fala e ação daquelas pessoas em grupos minoritários. Aqui é vital que isso seja denunciado e discutido.
Não é raro, em função de minha formação acadêmica e ativismo, que eu seja convidado para falar sobre gênero. Eu sei uma boa quantidade de questões sobre isso, mas o sei, primariamente, porque está fortemente relacionado com questões de sexualidade. Por tudo que expus até aqui, minha avaliação sobre aceitar falar ou declinar leva em consideração o contexto específico daquele espaço e das relações de poder existentes.
Na maior parte dos casos, eu indico ativistas feministas ou grupos feministas. Quando é um caso em que tal espaço surge associado ao espaço que recebi por outros aspectos (espaço institucional numa universidade, ativismo sobre pessoas LGBT, ativismo sobre a mídia, etc.), eu o ocupo em benefício da pauta. Pode ser que eu venha a dizer algo que não reflita asposições consensuais dentro da média dos grupos feministas. É uma possibilidade e um risco sempre presentes.
No todo, a maior parte das situações em que indivíduos de grupos não minoritários falam e agem quanto a grupos minoritários deve-se à assimetria de poder. Mesmo quando não advogando sobre grupos minoritários, mas apenas propondo ideias, a assimetria de poder tem um peso imenso. Um comentário interessante, sobre assimetria no campo do conhecimento, foi feito pela socióloga australiana Raewyn Connell, em entrevista para duas antropólogas brasileiras, publicada na revista Estudos Feministas. Ela fala da publicação de seu trabalho sobre masculinidades fora da Austrália:
Foi graças a essa decisão que o trabalho tornou-se visível internacionalmente. Para mim, foi uma lição de como explorar a predominância do Norte na vida intelectual […]. Mas isso tem uma explicação! Se você publica alguma coisa em uma importante publicação norte-americana, será lido na América Latina, na África, na Europa.
Retomando a questão da fala e ação, a minha avaliação é de que isso é insolúvel para a maior parte dos casos, uma vez que mesmo que toda uma sociedade compartilhe das razões justas de pautas de grupos minoritários, ainda depende da confluência de ação de um grupo grande de pessoas (maioria num plebiscito, maioria parlamentar, maioria dos donos de veículos de imprensa, etc.) para que certas pautas prosperem. E essa maioria, mesmo que seja a soma de várias minorias, nunca será pelo poder numérico isolado de alguma minoria. Frequentemente, nem mesmo se este poder numérico for majoritário, porque os espaços de poder não estão constituídos em função numérica — vide maiorias pobres, maiorias negras e pardas em alguns países, maiorias de mulheres em outros, etc.
Com isso, parece-me válido centrar as discussões em protagonismo quando é o caso de espaços em que a assimetria de poder não está colocada de maneira aguda. Sobretudo nos espaços de construção de ativismo. Aí sim a presença de pessoas de grupos não minoritários não pode solapar ou constranger as formas de organização dos indivíduos de grupos minoritários.
Isso implica dizer que, sim, pessoas que são privilegiadas contextualmente precisam exercitar o uso de seu poder de fala e ação de modo a beneficiar pessoas não privilegiadas. É o que se chama, em geral, de aliado ou aliada. Isso é particularmente importante nos espaços auto-organizados de movimentos, sejam eles clássicos como sindicatos e ONGs, ou novos, como coletivos, frentes, blocos, etc.
Assim, creio que duas ideias gerais possam ser extraídas como proposições do que discuti neste texto:
· É necessário que pessoas privilegiadas contextualmente abram mão de seu poder de fala e ação em benefício do crescimento do poder de fala e ação de pessoas desprivilegiadas, especialmente quando o que está em questão são as próprias experiências e proposições destas pessoas.
· Como consequência, é importante que pessoas privilegiadas contextualmente utilizem o poder de fala e ação que possuem, em espaços nos quais há assimetria de poder, em prol de pessoas de grupos minoritárias e suas pautas. Se é possível desnudar os mecanismos desta assimetria, tanto melhor para todos e todas.
Embora eu não tenha lido pesquisas e dados sobre isso, vejo com bons olhos a ideia de paridade forçada em certos espaços, como conselhos, diretorias, grupos decisórios, etc. Neste caso, refiro-me a gênero sobretudo. Também é válido para raça/etnia e pode ser analisado para outros casos em que a assimetria no acesso ao poder é flagrante e reflete, com frequência, enormes contingente populacionais.
A propósito, há pouca sistematização sobre o tema do protagonismo dentro de movimentos sociais e espaços ativistas. Todos os poucos textos que encontrei são sobre feminismo. Recomendo os três textos, embora eu ache que o melhor deles foi publicado pela Jussara Oliveira no Blogueiras Feministas.
Desafios da militância: participação e protagonismo — Jussara Oliveira.
Ao debate. ![]()
Notas:
[1] Há um artigo de J. Maggio (da Universidade da Flórida) que inverte a pergunta famosa de Gayatri C. Spivak, “pode o subalterno falar?” para “pode o subalterno ser ouvido?”. O artigo está em Alternatives 32 (2007), 419–443.
[2] Aqui há um pouco da ideia de Gramsci sobre intelectual orgânico. O que quis dizer é: há atores políticos que não pertencem a grupos minoritários, mas que estabelecem relações com eles de modo a, muitas vezes, representá-los. Isso é bem verdadeiro quando tais atores detêm um poder muito maior do que tais grupos. Note-se, por exemplo, o caso de antropólogos que advogam em defesa de povos indígenas.
O QUE É PROTAGONISMO?, pelo viés do colunista Luiz Henrique Coletto