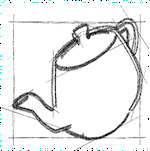“Cuando no estés, lo sé
será verano
el mar traerá noticias y semanas
será manso diciembre fin de fiesta
los días me traerán días iguales”
(Enrique Estrázulas)
Mais estranha do que todos os rastros do que já não estava era aquela escuridão. Porque ainda havia gente, ainda que em retirada, panos, outra vez dobrados, e sobras de comida e de cerveja, que agora voltavam para as sacolas, mas não se enxergava nem mais um palmo à frente do rosto. O desmontar das estruturas, a volta para casa, estes percursos precisavam ser feitos às cegas. A música havia silenciado há meia-hora, e alguns respingos de cordas e tambores pareciam ainda se acomodar na copa das árvores. Estavam no Parque, numa concha que também é clareira, e que se encheu de gente, som e sol para logo voltar ao cansaço, chegar ao fim de festa. O fim de festa é o que se estava vivendo ali.
Não há um instante preciso para que situações como esta tenham fim – o barulho de um sino ou uma iluminação que muda de súbito podem ser indicativos ou tentativas de desfecho, mas não garantem nada. Poderá haver, ainda assim, permanência. Há formas mais agudas de se encerrar qualquer coisa, e se estas violências podem muito bem funcionar na prática, em algum outro lugar o acontecimento se desloca e continua acontecendo; resiste. A noite não é uma ciência exata, cantou um montevideano. Ela pensava nisso tudo, talvez de modo ainda mais abstrato, já que a cerveja quente nunca favoreceu o raciocínio da humanidade, enquanto permanecia sentada num concreto que esfriava.
Era uma resistência com prazo de validade estabelecido a olhos vistos. As pessoas se dispersavam ao som de conversas baixas, e no lugar do suor e do perfume dos corpos quase colados uns nos outros voltava a se sentir o cheiro das flores do Parque. As árvores retomavam o controle e o lugar; com exceção de uns poucos rebeldes ou insistentes ou ébrios que, se pudessem, continuariam sentados ali durante a lenta progressão da madrugada:
– É muito cedo para voltar, não consigo entender como isso termina aqui.
Ela estava ali há cinco horas, quando chegou o calor castigava e a tarde era um borrão amarelo, sem nitidez, e a concha um espelho inclemente, pois também amarelo, e que refletia e espalhava mais sol e mais calor. Foi naquela hora em que chegavam pessoas de todas as partes, caravanas decididas e de origens tão distintas: dos bairros do Norte, das povoações das afora, dos ônibus que vinham de ainda mais longe e deixavam os passageiros numa esquina da Avenida. Era domingo outra vez na cidade, e noutros lados que não no Parque as ruas estavam desabitadas como costumam ser as tardes assim. Tardes preguiçosas em que, depois de se apertar o botão vermelho, a televisão ainda demora alguns segundos para mostrar as suas tristezas. Tardes perigosas em que quase todas as vidas parecem ter pouco valor. Mas não no Parque, e não nas suas pontes, ao menos não daquela vez.
Havia motivos, mas se festejaria da mesma forma se não houvesse nenhuma razão. O encontro bastava como justificativa e motor: as vozes com texturas tão diferentes, como contrastantes também eram as saias das mulheres. Sendo assim, não era espantoso que as horas passassem como um vento fresco e breve, fresco e breve como o que se percebe no exato momento em que se perde. Viu rostos conhecidos, de outros dias. Rostos (bocas) com as quais dividiu vinho quando fazia frio e o vento era outro, e que foram transportados para alguma carta escrita com pressa. Viu gente que jamais imaginou que vivesse na mesma cidade que a sua. Cidade esta que habitava as conversas — e a tarde não foi mais que uma enorme prosa a flutuar sobre a concha, crescendo e então derretendo — e que terminava num mesmo veredicto: seria este um lugar mais alegre para se viver se chegassem mais domingos assim.

– Agora terminou de verdade, não é? Eu admito, vamos.
Aceitou o fim da festa quando a noite reduzia as formas a uma mesma inexatidão. Galhos e braços, olhos e folhas, uma pedra e um gato, o caminho de volta e a trilha para mais adiante, tudo se parecia e se igualava. Não havia luz artificial para sabotar a totalidade da noite, e então ela crescia permitindo agora que as pessoas se guiassem tão somente pelo tato e pelos sons. Restavam uns poucos, mesmo os que pareciam afogados numa poça de cerveja agora estavam convencidos do término da função. Foi quando desistiu de fixar os olhos num ponto qualquer do palco vazio e passou a deslizar as mãos pelo concreto a fim de levantar, de buscar a saída. O sino ruidoso ou a luz que se apaga de golpe haviam cumprido, enfim, a sua função.
Andavam por um caminho estreito, feito de pedras soltas e que avança enquanto costeia os barrancos. Por ali, é possível caminhar indefinidamente até o outro extremo do Parque, para os lados da Estação, e também abandoná-lo num dos atalhos de saída que surgem logo em seguida. Estava acompanhada por quatro ou cinco pessoas e escolheram uma destas pontezinhas para deixar a grama. Orientaram os pés para o Centro num andar indeciso, feito de uma ressaca que aparece devagar e de um torpor que esgota e se dissolve. Atravessaram o Túnel, a Praça, viram as luzes apagadas do domingo com alguma preguiça.
– Quem sabe voltamos ao Parque, ela disse. De uma festa desmaiada sempre pode nascer alguma outra coisa.
* Mensalmente, cenas e circunstâncias de Santa Maria – cidade que, apesar do título, também sofre com outros ventos, mais gelados – devem ser narradas neste espaço.![]()
Folhas do vento norte (VI). Fim de festa, pelo viés de Iuri Müller.