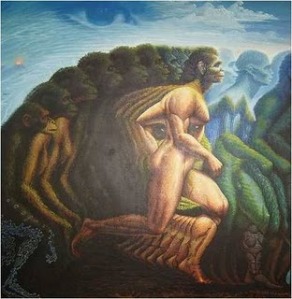Descaso com a educação indígena: greve de um, luta de todos
É difícil conceber que uma greve, instrumento histórico de luta, defesa e reivindicação de maiorias trabalhadoras contra os abusos de uma minoria patronal – e, portanto, um recurso essencialmente coletivo – possa ser realizada por uma só pessoa. Desde o dia 27 de fevereiro, entretanto, é esta a realidade de Natanael Claudino, cacique da comunidade kaingang Kentyjug Tegtu (Três Soitas), de Santa Maria, e professor contratado pelo estado para dar aulas na escola da comunidade.
Em função da falta de estrutura adequada para a realização das aulas, resultante do descaso de diferentes esferas do poder público, Natanael anunciou a greve no último dia do mês de fevereiro, pouco antes do prazo marcado para o início do período letivo.
A greve de agora é resultado das precárias políticas públicas mal executadas nas comunidades indígenas da cidade, e foi anunciada no momento em que, mais uma vez, os prazos estabelecidos para a implementação de direitos sociais básicos são desrespeitados.
Embora seja o único a estar em greve, já que é também o único professor indígena da comunidade kaingang, Natanael explica que sua paralisação não tem nada de individual: “Eu sou professor, sou pago para ensinar as crianças, mas quem decide que eu vou ser o professor, que eu vou ser o cacique é a comunidade. Então, não foi algo planejado só por mim. A comunidade que decidiu: vamos fazer assim, não vamos mandar os filhos ainda porque o estado tem essa promessa e está em atraso”.
São várias as condições com as quais o estado se comprometeu e não cumpriu: “Iria ter luz, cozinha, banheiro, saneamento para a escola, um monte de coisas. Nada disso tem, então a comunidade achou melhor não iniciar [as aulas]. É uma forma de pressão que a comunidade está fazendo e que é o direito da comunidade. Eu estou aí para ajudar naquilo que a comunidade decidir”.
“Provisório do provisório”
Segundo o Diário Oficial da União, a Escola Estadual de Educação Indígena Augusto Opẽn da Silva já existe oficialmente. O reconhecimento legítimo de uma prática que já existia concretamente na comunidade foi um alento: a partir de então, professores e uma merendeira poderiam ser contratados, e a construção do prédio provisório da escola poderia ser realizada.
Como o local ocupado pela comunidade ainda encontra-se sob litígio e o processo judicial que discute a posse do terreno ainda tende a alongar-se, a proposta apresentada à comunidade foi a de uma construção provisória, de fácil montagem e desmontagem, projetada justamente para áreas de conflito. Com base pronta de metal e encaixes de alvenaria pré-moldada, o projeto de espaço provisório prevê duas salas de aula, uma cozinha, um banheiro e um espaço de lazer.
Mesmo com o reconhecimento pelo Diário Oficial e depois de um ano de experiência da educação indígena na comunidade, entretanto, a única instalação para a escola que existe em Kentyjug Tentu é referida pela comunidade como o prédio “provisório do provisório”. O governo apenas forneceu telhas para a construção da sala, e a obra foi inteiramente realizada pelos moradores e voluntários. O restante do material proveio de doações.
Após a construção de nove casas de madeira realizada por moradores e voluntários, também com material doado, a escola mudou de lugar, sendo realocada em uma das casas mais ao fundo do terreno, onde a luminosidade – insuficiente – poderia ser melhor. “Mesmo assim, se abrirmos as janelas aqui do fundo, os alunos deixam de enxergar direito o quadro. Se abrir a porta, vem a luminosidade pela frente e escurece as letras. Dia nublado, ou quando chove, fica impossível de enxergar”, mostra Matias Rempel, do Grupo de Apoio dos Povos Indígenas, o Gapin. O pequeno quadro-negro disputa espaço com a porta da peça de aproximados doze metros quadrados.
Além dos impasses frente à educação nas comunidades, os sistemas de luz elétrica e abastecimento de água também não foram instalados. Da enorme plêiade de problemas estruturais, a falta de luz é talvez um dos mais incapacitantes: sem ela, as escolas não podem funcionar em turno inverso, e a organização de turmas do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), demanda de jovens e adultos de ambas as comunidades, fica impossibilitada.
Com uma verba recebida pela comunidade para a manutenção dos serviços educacionais – no espaço impróprio ainda utilizado como escola – cerca de R$400,00 trimensais do governo, pais e professores decidiram comprar um poste e um transformador. “Guardamos na peça que usamos como depósito, onde funcionava a primeira escola”, explica Natanael. “Mas sem o sistema fica impossível de se instalar”.
Em reunião realizada com o Ministério Público Federal (MPF) em setembro de 2012, foram estabelecidos prazos para a garantia da infraestrutura básica necessária para as aulas e para a construção das escolas: o primeiro dia de maio é o prazo para a conclusão dos prédios provisórios, mas o prazo para a regularização do fornecimento de água, luz, merenda e saneamento básico estourou no início de março.
A negligência que ocasionou a greve, desde o ano passado, vinha resultando em uma situação crítica: a comunidade de Kentyjug Tentu conta com um professor, Natanael, e uma merendeira contratados pelo estado, mas o fornecimento da merenda ainda não ocorre regularmente e não há cozinha nas atuais condições de extremo improviso. Assim, a merendeira é forçada a cozinhar em sua própria moradia e a merenda vem sendo adquirida com base em doações e com o próprio salário de Natanael, revertido quase integralmente à comunidade.
A questão pedagógica: “no susto e na boa-vontade”
Outro problema estrutural enfrentado pela escola da comunidade é em relação aos materiais escolares. “O que vai sobrando [das outras escolas] vem pra cá”, afirma Matias. “Não tem um planejamento de qual material vai ser usado, qual pedagogicamente vai ajudar. Vão pegando um monte de livros, sobre uma série de assuntos que mais ou menos é o que se teria que ensinar segundo a lógica do estado, e vão largando”.
As dificuldades na aquisição de material escolar evidenciam outra problemática, mais profunda: além de conviver com a falta de estrutura física, a escola da comunidade kaingang Kentyjug Tentu enfrenta também a carência de um projeto pedagógico específico para a educação indígena, bilíngue, cujo princípio é a articulação entre os métodos e conteúdos da educação institucional e os saberes tradicionais das comunidades. No caso da escola guarani, não é diferente.
Mesmo antes da paralisação, a situação já se mostrava desfavorável. Sem debate entre a 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e as comunidades, o plano pedagógico das escolas, ou a falta dele, inviabilizava qualquer avanço. “Foi jogado e dito assim: ‘está à tua própria sorte, se vira aí’, como se isso fosse a questão pedagógica, aprender no susto e na boa vontade”, diz Matias.
Segundo Matias e o cacique Natanael, a Coordenadoria tem assistido as demandas de Recursos Humanos com maior atenção – a contratação de professores não indígenas para os kaingang e os guarani. Entretanto, a disponibilização de profissionais sem o zelo pedagógico culmina em obstáculos para o ensino específico que trabalhe as diferenças culturais e de formatos de educação.
Os problemas enfrentados são, em sua maioria, resultantes da falta de diálogo com as comunidades e da ausência de uma política consistente de Estado, para lidar de maneira flexível com as especificidades da educação indígena. “É tudo no improviso. A CRE, pelo que parece, quando precisou fugir daquele sistema de educação mais quadrado, deu pane”, explicita Matias. Natanael aponta que a professora de fora da comunidade, por vontade própria, adaptou-se a algumas demandas da educação indígena, mas que a escola e o corpo docente não receberam capacitação ou amparo pedagógico algum.
Segundo Matias e Natanael, a CRE tem argumentado que existem dificuldades para se lidar com a questão indígena, por se tratar de uma experiência nova. “Mas acontece que essa coisa nova já tem um ano”, argumenta Matias. “Essa experiência nova, de língua, de cultura, já faz um ano de existência. E não vai ser tão pesaroso aprender a dialogar com a comunidade, porque a comunidade tem o seu conselho, a sua voz para decidir”.
A reportagem tentou contatar a professora Ana Cristina de Oliveira, diretora das escolas indígenas e integrante do Setor de Recursos Humanos da 8ª CRE, mas em função de uma alegada reunião em Porto Alegre, a entrevista marcada não pode ser realizada. Em resposta por email, por meio da assessoria de comunicação da 8ª CRE, a diretora afirmou que as duas escolas indígenas estão em processo de implantação e que, enquanto não fosse publicado no Diário Oficial (sic), não se poderia fazer nada. Sobre a implantação de sistemas de luz e água, Ana Cristina informou que haveria negociações em andamento com a AES Sul, empresa responsável pelo sistema de eletricidade de Santa Maria, e a Corsan, empresa responsável pelo saneamento básico e sistema de água.
A situação guarani
No caso dos guarani, a situação é ainda mais crítica: a comunidade está mais distante do centro da cidade, o que faz com que seja mais difícil o acesso à CRE do que no caso dos kaingang – situação que, segundo Matias, é agravada pela indisponibilidade da CRE em ir até a comunidade para realizar uma reunião.
Além disso, na comunidade kaingang a idade escolar é mais baixa e também mais homogênea, o que facilita o trabalho – apesar da ausência de instrução pedagógica – de Natanael. Para Arlindo Benites, o professor guarani, entretanto, a situação é diferente: “O Arlindo tem uma escolaridade que vai até a sexta série, faz muito tempo que ele parou de estudar, e as crianças que estão na quinta, na sexta e na sétima já passaram à frente do professor”, diz Matias.
Essa situação não seria de difícil resolução, caso a escola da comunidade já contasse com luz elétrica: “São poucos alunos, cinco que já estão à frente disso, não tem como abrir uma turma específica com um professor específico para eles, mas o EJA resolveria essa questão”. Para o EJA funcionar em turno inverso, entretanto, é necessário ter luz. “O EJA é uma proposta de um ano atrás. Se tivesse a luz, se tivesse o EJA funcionando normalmente, esses alunos seguiriam os estudos através dele”.
Para a comunidade guarani, esse contexto assume contornos drásticos. Recentemente, depois de anos de resistência em um terreno reduzido e sem estrutura alguma às margens da BR-392, a comunidade conquistou um território próprio e inaugurou a aldeia guarani Tekoa Guaviraty Porã (para saber mais sobre a história dos guarani em Santa maria, clique aqui). Com o território garantido, a comunidade começou a se reestruturar: parentes distantes dos guarani de Santa Maria retornaram à região, atraídos pela possibilidade de vida digna.
A falta de condições de educação, entretanto, tem feito com que parte da comunidade guarani considere abandonar o espaço conquistado a duras penas. “Agora, que eles conseguiram juntar os parentes, eles queriam retornar, porque estava acontecendo dos parentes reclamarem que os filhos deles estavam melhores atendidos em outras áreas na questão da educação, que aqui não estava existindo”, diz Matias.
O abandono da área por parte de algumas famílias poderia ter consequências ainda mais graves para os guarani: recentemente, em função de um pacto entre o estado e a Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), órgão federal, surgiu a possibilidade de acessar um recurso para arrecadar uma verba mensal para aplicação em saúde. “São cerca de 4 mil mensais que vêm para ser acessados da conta da comunidade, mas isso exige um número mínimo de famílias. E, se essas famílias fossem embora, também não conseguiríamos acessar esse recurso da saúde. Então, as questões se imbricam”.
Para manter o equilíbrio da comunidade e seguir atendendo às crianças que ainda estão dentro de suas possibilidades, Arlindo decidiu não realizar greve. A comunidade, entretanto, é solidária à iniciativa dos kaingang. “Na verdade”, diz Matias, “a greve do Natanael e do povo kaingang acabou atendendo os anseios dos dois povos”.
Propostas em discussão
Quase um mês depois do anúncio da greve, poucas coisas andaram na comunidade kaingang. O imobilismo e a falta de retorno a respeito da situação para as comunidades fez com que o cacique kaingang fosse até a sede da Secretaria de Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul (SEDUC), em Porto Alegre, para averiguar como andava o projeto de escola de Kentyjug.
Após a pressão realizada junto à Secretaria, uma das poucas atitudes do governo do estado foi o envio de técnicos para a medição do espaço onde deverá ser construído o aguardado prédio provisório da escola. A medição quase não foi realizada, segundo Matias e Natanael, em função de ameaças feitas pelo arrendatário do terreno vizinho (situação recorrente na comunidade, como pode ser lido em outra matéria do Viés), e também devido à falta de comunicação com os indígenas, que nem ficaram sabendo que o procedimento seria realizado.
Mais uma evidência da morosidade do estado para lidar com a questão é o fato de que, embora uma equipe tenha sido deslocada até Santa Maria para realizar a medição do terreno da escola na comunidade kaingang, a medição do espaço na comunidade guarani ainda não foi realizada, o que atrasará ainda mais a construção da escola no local.
Na última reunião realizada entre as representações indígenas e a 8ª CRE, em Santa Maria, surgiu a proposta de criação de um conselho de educação indígena junto à Coordenadoria. Como explica Matias, seria um espaço institucional da Coordenadoria, para que os professores, as lideranças, os mais velhos, e os educadores indígenas – que nem sempre são os professores registrados pelo estado – pudessem se reunir com os setores pedagógico e de recursos humanos da CRE, com a finalidade de criar uma política efetiva, que discuta questões curriculares e as especificidades.
A proposta é apoiada pelas comunidades de Santa Maria, e sua concretização representaria um grande avanço para no debate da educação indígena. Atualmente, o único espaço institucional existente no estado para tratar dessa questão é o Núcleo de Educação Indígena da SEDUC, que se reúne apenas a cada dois meses. Tendo em vista que os problemas enfrentados pela CRE em Santa Maria são problemas compartilhados pelas demais coordenadorias em todo o estado, o membro do Gapin considera que o estabelecimento de conselhos fixos é uma política necessária que pode e deve ser implementada e ampliada em todo o estado.
Se a educação nas comunidades fosse exclusivamente indígena, não seria necessária a construção de escolas: o ensino dar-se-ia conforme a tradição histórica dos povos indígenas. “Eles iriam aprender na roda de fogo, com os mais velhos, como sempre fizeram”, afirma Matias Rempel. “Mas já que a escola é para o local, é para fazer o encontro entre os saberes e criar a partir do método próprio uma forma de alcançar outros conhecimentos, é necessário um planejamento, e esse planejamento não existe”.
A implementação de um sistema educacional adaptado às especificidades indígenas vai ao encontro de um fundamento básico que o Estado brasileiro, ao menos em tese, estabelece e reconhece aos povos tradicionais em sua Constituição: o direito à diferença. Está em consonância, também, com as conquistas progressivas na busca por condições para o ingresso de indígenas no ensino superior – uma das pautas permanentes do movimento indígena em Santa Maria e foco de atuação Comissão de Implementação e Acompanhamento do Programa Permanente de Formação de Acadêmicos Indígenas (CIAPFAI) da UFSM.
A atenção à educação indígena significa um avanço para comunidades que historicamente tiveram seus direitos sociais negligenciados, mas não só: significa, também, a abertura de novas possibilidades e de novas experiências de interdisciplinaridade, de intersecção entre saberes tradicionais, populares, e o modelo de educação ocidental instituído.
Para se avançar e pensar em superar paradigmas, entretanto, é necessário garantir o mais básico, o mais essencial. Enquanto não vem, a greve continua.
DESCASO COM A EDUCAÇÃO INDÍGENA E A GREVE DE UM HOMEM SÓ, pelo viés de Tiago Miotto. Colaboração: Bibiano Girard.